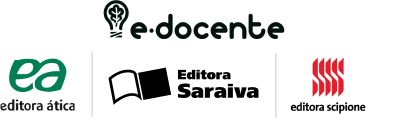Valorização da cultura indígena na educação básica

No currículo da Educação Básica, há alguns temas de inquestionável importância para a ampliação não só do repertório intelectual e cultural, mas também do repertório sociopolítico dos estudantes. Entretanto, a presença desses assuntos costuma ficar restrita ao entorno de certas datas comemorativas. A valorização da herança africana e o trabalho com a cultura e a história afro-brasileira, por exemplo, apesar de estar garantida desde a promulgação da Lei 10639/2003, geralmente ganha destaque apenas no final do ano letivo, por causa do Dia da Consciência Negra, que ocorre no dia 20 de novembro. O mesmo acontece com a cultura indígena, que, apesar de ser fundamental para a compreensão da história e da diversidade cultural do Brasil, muitas vezes é abordada de forma superficial e fragmentada.
A importância de um ensino contínuo sobre a cultura indígena
O mesmo podemos dizer sobre o estudo da história e da cultura indígenas, garantidos pela Lei 11645/2008, que modifica a Lei 10639/2003 para “incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’”, afirmando, no segundo parágrafo de seu primeiro artigo, que “Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.”. Ainda assim, tais saberes, muitas vezes, ficam restritos a datas do mês de abril, quando se comemora, no dia 19, o Dia dos Povos Indígenas, antigamente chamado de Dia do Índio.
Reforçar determinados conteúdos em datas comemorativas, por si só, não é um problema. Ainda mais quando pensamos nas práticas realizadas nos anos iniciais, em que ocorrem produções artísticas ou organizações de eventos para homenagear as culturas dos povos celebrados de maneira bastante lúdica para os alunos. O ponto que merece atenção, no entanto, é restringir esses estudos e discussões a momentos isolados do ano, reforçando a condição desses saberes a um espaço puramente folclórico e estereotipado e não como componentes fundamentais da história e cultura brasileira como um todo. Partindo dessas percepções, veremos neste texto como valorizar a cultura indígena na educação básica, principalmente a partir do trabalho com textos literários.
Cultura indígena na educação: entre estereótipos e vozes legítimas
Quando pensamos nas representações dos povos indígenas na literatura brasileira, encontramos, desde as primeiras escolas literárias, imagens bastante simplificadas, incoerentes e até ofensivas desses povos. Se retornarmos às produções quinhentistas, como as obras do Padre José de Anchieta, o indígena está muito associada a uma figura idealizada, ingênua e, ao mesmo tempo, carente dos valores cristãos, o que, naquela perspectiva, justificaria todo o processo de catequização e submissão da cultura indígena à cultura europeia.
Leia mais: As ricas e invisibilizadas Culturas Africana e Indígena
É famosa a estratégia utilizada por Anchieta em Auto representado na festa de São Lourenço, de 1587, obra escrita em três línguas, português, espanhol e tupi, na qual acompanhamos um embate entre santos católicos e uma entidade indígena. Nessa narrativa, São Sebastião e São Lourenço protegem uma aldeia contra um demônio chamado Guaixará, ou seja, é construída uma oposição bem versus mal, em que a imagem maligna está sempre associada à cultura indígena, enquanto o bem seria representado pela cultura cristã. No quinto ato, parte final dessa peça, temos a conclusão do processo de conversão:
Nós confiamos em ti
Lourenço santificado,
que nos guardes preservados
dos inimigos aqui
Dos vícios já desligados
nos pajés não crendo mais,
em suas danças rituais,
nem seus mágicos cuidados.1
Seja nas aulas de história, sociologia ou literatura, a análise das obras literárias desse período, que eram produzidas com a intenção de reforçar o valor da cultura europeia diante da indígena, são uma importante oportunidade para explorar conceitos como: colonialismo cultural, bem como os movimentos de resistência dos povos indígenas de ontem e de hoje diante desse tipo de opressão. Pode-se também analisar as representações indígenas contemporâneas em obras audiovisuais, identificando o que já foi superado e quais representações problemáticas ainda persistem.
Leia mais: Patrimônio histórico-cultural: o que é?
Avançando alguns séculos, já no Romantismo, início da produção literária nacional, temos novamente construções de imagens idealizadas daqueles povos, ainda que partindo de uma intenção diferente. Nesse caso, se pensarmos no movimento indianista romântico, há uma busca por uma identidade brasileira desvinculada das influências portuguesas; na poesia, o maior nome é, sem dúvida, Gonçalves Dias, enquanto na prosa temos José de Alencar como principal autor que trouxe personagens indígenas para suas obras. Nos dois casos, embora o objetivo seja valorizar a bravura indígena a partir de narrativas heroicas, notamos outra vez um apagamento da complexidade que envolve a tematização dos povos originários, com personagens unidimensionais a serviço basicamente da construção de um ideal nacionalista.
Mais adiante, no início do século XX, durante o modernismo, a desconstrução é o mote da produção literária. Nesse contexto, temos Macunaíma, de Mario de Andrade, obra que explora elementos da cultura indígena ao mesmo tempo que busca a todo momento subverter expectativas e romper com modelos narrativos anteriores. Temos aqui, a saga do personagem-título, um indígena que nasce negro e realiza todo tipo de peripécia em sua aventura para recuperar uma pedra mágica. Em seu primeiro parágrafo, já dá para sentirmos o tom provocativo do livro:
No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.(ANDRADE, 2022, p. 18)
Vozes indígenas contemporâneas: Descolonizando o olhar sobre a cultura indígena
Todos esses exemplos vistos acima, que atravessam a história da literatura brasileira, podem, primeiramente, ser oportunidades para problematizar as representações indígenas a partir dos diferentes contextos sociohistóricos de produção e das motivações de cada estilo de época. Após essa leitura crítica, podemos trazer autores indígenas contemporâneos que, através de suas vivências e repertórios culturais, reposicionam o modo como tais povos são representados, partindo de olhares múltiplos e autênticos.
Leia mais: Como integrar o debate sobre a vacinação no currículo escolar?
Nesse movimento de busca por um diálogo com autorias indígenas, há nomes que podem ser trabalhados desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Com alunos mais novos, são famosos os livros de Daniel Munduruku, dentre os quais podemos indicar desde Meu vô Apolinário, que traz uma sensível recorte autobiográfico do autor com seu avô, até Peripécias Do Jabuti ou Coisas de Onça, produções que apresentam fábulas indígenas em uma linguagem cativante não só para crianças, mas para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais dessa cultura.
No campo das produções poéticas, podemos citar os nomes de Márcia Kambeba, Tiago Hakiy, Graça Graúna e Eliane Potiguara, com versos que podem ser lidos não só no Ensino Fundamental, mas também no Ensino Médio, o que, sem dúvida, irá provocar reflexões muito necessárias e irá deslocar o olhar dos estudantes para outras realidades e modos de ser no mundo.
Outro nome muito importante e que ganha ainda maior relevância no Ensino Médio, devido às suas reflexões sobre causas sociais contemporâneas, é Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor. Dentre seus livros, recomendamos, especialmente, aqueles que reúnem seus pensamentos em ensaios, entrevistas, conferências e outras formas de expressão, como Ideias para adiar o fim do mundo, A vida não é útil e Futuro ancestral. Nesse último livro, destacamos, o texto “Cidades, pandemias e outras geringonças”, breve ensaio, no qual Ailton Krenak provoca o leitor a pensar sobre as características nocivas do modelo de sociedade em que estamos inseridos. Ailton, aliás, foi eleito, no último ano, para a Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro indígena a ocupar uma cadeira nessa instituição.
Partindo de todos esses exemplos, desde o modo como os povos indígenas foram representados nas obras clássicas até a maneira como autores indígenas contemporâneos desenvolvem sua linguagem literária e defendem seus posicionamentos, notamos que é possível, de forma coerente, respeitosa e plural, explorar a temática em destaque ao longo de todo ano letivo. Práticas que, sem dúvida, contribuirão para formar cidadãos mais conscientes sobre uma das partes essenciais de nossa riqueza cultural e da nossa identidade nacional.
Referências
ANDRADE, Mario de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Editora Antofágica, 2022.
Minibiografia do autor
Com sólida formação em Letras (Português — Literaturas) pela UFRJ, Diego Domingues dedica sua carreira à pesquisa e ao ensino de Língua Portuguesa. Possui doutorado em Linguística Aplicada e mestrado em Educação, aprofundando seus conhecimentos em letramentos e em educação de jovens e adultos. Sua experiência como professor no Colégio Pedro II, aliada à sua participação no grupo de pesquisa PLELL, demonstra um compromisso com a formação de leitores críticos e engajados.
- Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000145.pdf Acesso em 05/12/2024 ↩︎
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

Educação e emergências climáticas na COP30: o papel essencial da Saber Educação e o guia que preenche lacunas

Planejamento anual: quatro pilares para um trabalho coletivo

Assédio moral na escola: reflexões a partir do filme Whiplash – Em busca da perfeição

O desenvolvimento da consciência ambiental nos Anos Iniciais: estratégias pedagógicas e impacto na formação cidadã