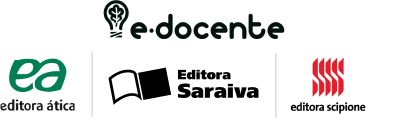Mídias sociais: quantas vezes você já checou o celular hoje?

Começarei com uma confissão: dentre aqueles que escrevi recentemente, este texto foi um dos mais difíceis de iniciar, por várias razões. A principal delas é que a convivência com as mídias sociais é um fenômeno recente, cujos efeitos ainda estão sendo sentidos – e como essas mídias estão em constante atualização, apresentam a cada dia novas possibilidades e desafios. Aliás, talvez a palavra ‘desafio’ seja uma boa para iniciar este texto, visto que estamos diante do desafio de pensar sobre as mídias sociais e sobre como tem sido conviver com elas com certa autonomia, sobretudo para os adultos, e é aí que começam os problemas. De que autonomia estamos falando? Dentre os incluídos digitalmente, quem consegue não checar as redes sociais várias vezes por dia? Como e o que isso impacta em nossas vidas?
Antes de voltar a essas questões, para as quais, adianto logo, teremos respostas apenas provisórias, convido o leitor a dar um passo atrás para ouvir uma breve história, abrir outra aba.
Os estudos iniciais sobre as mídias
Em minha trajetória acadêmica, sempre evitei as polarizações relacionadas ao meu antigo objeto de estudo: a comunicação de massa, especialmente a televisão. Isso, porque era lugar comum, até mesmo entre os estudiosos, afirmar que a televisão aliena e, portanto, não é digna de ser estudada (Wolton, 1996) – perspectiva derivada, principalmente, da Escola de Frankfurt, cujas contribuições teóricas tiveram uma recepção entusiástica na área dos estudos culturais. A ideia era mais ou menos a seguinte: a TV aliena, e não há nada além disso a se falar sobre ela. Por isso, na graduação em Ciências Sociais, cheguei a conviver com intelectuais e professores que sequer tinham um aparelho de TV em casa.
Leia mais: Uso do celular em sala de aula: Como gerenciar essa realidade?
Os autores da Escola de Frankfurt estavam errados? Em parte, não. Adorno e Horkheimer, que criaram o conceito de ‘indústria cultural’, que teve ampla recepção nas universidades e até mesmo no senso comum, haviam presenciado como a cultura de massa contribuiu para a disseminação da ideologia desumana do nazismo, e como Hitler usou o cinema, os jornais, o rádio e (em menor escala, visto que ainda não havia se popularizado) a televisão para divulgar ideias que levaram à morte de, aproximadamente, 9 milhões de pessoas, entre judeus, pessoas com deficiência, negros, ciganos, testemunhas de Jeová e outros. Sendo assim, esses autores pareciam ter dito aquilo que importava sobre os meios de comunicação de massa, estabelecendo a perspectiva definitiva sobre o tema.
Realmente, olhar para a comunicação de massa sem uma visão crítica não era algo pertinente nos anos 1940, quando foi criado o conceito de indústria cultural. Para Adorno e Horkheimer (1985), a indústria cultural colocava as mídias – TV, rádio, jornal e cinema – a serviço do capitalismo, submetendo-as à mesma formatação, como qualquer outro produto fabricado em série, e não deixando espaço para a reflexão crítica e o pensamento livre. Para os autores, tanto as armas e bombas quanto o cinema, o rádio e os jornais cumpriam a mesma função: tornar legítimo e coeso o capitalismo. Ou seja, a crítica aos meios de comunicação de massa tinha uma inquestionável razão de ser.
Com o passar do tempo, tanto na América Latina (Martín-Barbero, 2001), incluindo o Brasil (Sodré, 1988), quanto na Europa (Eco, 2000; Mattelart; Mattelart, 2000) – para citar apenas alguns teóricos –, esse olhar hostil foi contrabalanceado pela percepção das nuances de estudos mais detalhados sobre conteúdo e recepção. Por isso, passamos a um outro momento, em que os estudiosos se interessavam também pelo que era possível dizer a partir da relação entre produtores, receptores e os próprios meios de comunicação. Foi sendo percebido que a forma como os receptores da comunicação de massa consumiam TV, rádio, mídias impressas e cinema não era uníssona – por exemplo, nem todas as pessoas que tinham acesso a um mesmo programa de TV o viam da mesma forma (Martín-Barbero, 2001).
Além disso, especialmente no caso do Brasil, a TV foi se firmando como principal meio de acesso à informação, ao lazer e à cultura de boa parte da população, por isso havia espaço para produções variadas, como telejornais, programas de auditório, novelas e minisséries – muitas dessas inspiradas na história política e na literatura brasileira. Assim, o país se tornou um grande produtor de conteúdo, criando uma das maiores emissoras de televisão do mundo (Rede Globo). Ao mesmo tempo, floresceram estudos sobre os diálogos entre comunicação de massa e cultura brasileira, não apenas a partir do viés da manipulação midiática e da alienação (Borelli, 2001; Hamburger, 2011), e passamos à seguinte questão: sim, a TV aliena e manipula, mas, além disso, o que é possível dizer sobre esse meio de comunicação presente na maioria dos lares dos brasileiros? Tal perspectiva norteou os estudos culturais no Brasil, que trataram de refletir sobre as relações entre os indivíduos e as mídias de massa, sobretudo na área da comunicação, sendo os principais pesquisadores comunicólogos, semiólogos, sociólogos e antropólogos.
Leia mais: Inteligência Artificial (IA): ficção, realidade e o uso na Educação
Depois que a comunicação deixou de ser face a face e passou a ser mediada – com os impressos, no século XVI –, temos um problema (Thompson, 2001), e todo o “mau olhado dos intelectuais” sobre a TV (Martin- Barbero; Rey, 2001, p. 23) após a Segunda Guerra Mundial talvez sirva como sinal de alerta importante a respeito do alcance das mídias sobre as pessoas.
Todo esse prólogo é para dizer que já foi um desafio pensar sobre as consequências dos meios de comunicação tradicionais, e atualmente não é diferente: retomamos o desafio, que, entretanto, hoje parece ser maior. Isso, porque, diferentemente da TV, que ficava imóvel na sala de estar ou nos quartos dos lares, o smartphone fica na palma da mão das crianças, dos jovens e dos adultos – no caso das crianças, muitas vezes sem a vigilância de um responsável. Além dessa facilidade, a internet apresenta um mundo de possibilidades em termos de informação, que, por conta dos algoritmos, cria ‘bolhas’ de interesse, fazendo com que as pessoas vejam sempre mais do mesmo. Estamos falando de um fenômeno que ainda não tem nome, porque muda o tempo todo. Atualmente, temos 4 ou 5 plataformas de redes sociais que são as mais acessadas, mas teremos as mesmas daqui a 5 anos? Talvez não. Caso ainda existam, elas próprias certamente não serão iguais. Então, percebemos que o fenômeno das mídias sociais ainda escapa de nossas mãos.
A presença das mídias sociais no cotidiano
Dependência quanto ao uso de smartphones, invasão de privacidade, vigilância sobre os dados coletados, colonização digital, disseminação de fake news, abandono digital das crianças e adolescentes, excesso de informação e problemas físicos e psicológicos associados ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos são algumas das questões com as quais ainda teremos que lidar por um bom tempo, visto que ainda seguem com respostas provisórias. Então, parece que estamos em um ponto crítico, ou numa encruzilhada.
Para revelar parte da problemática em que estamos envolvidos, é preciso trazer alguns dados.
Mídias sociais são ferramentas que permitem a comunicação virtual entre pessoas, por meio de sites e aplicativos. As redes sociais da internet são tipos de mídias sociais que enfatizam a relação entre seus usuários. As mídias sociais conectam pessoas que têm interesses comuns, através do compartilhamento de áudios, imagens, vídeos e textos e de interações remotas em tempo real, permitindo aos usuários se comunicarem, entreterem, relacionarem afetiva e sexualmente, divulgarem produtos e serviços, entre outras possibilidades.
Em 2024, as redes sociais mais utilizadas no Brasil foram: WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok – sendo essas também as mais utilizadas no mundo (Alves, 2024). Três delas (Facebook, Instagram e WhatsApp) pertencem à mesma empresa, Meta, sediada nos Estados Unidos. A Google, que também é uma empresa estadunidense, é proprietária do YouTube. Dentre as cinco redes listadas, portanto, apenas uma não é ou não pertence a uma empresa dos EUA – o TikTok é chinês. Além dessas, há outras redes sociais muito bem-sucedidas financeiramente, que, por isso, são chamadas de big techs – embora nem toda big tech seja uma rede social, visto que o termo se refere também a companhias de outros seguimentos comerciais –, cujo faturamento pode ultrapassar o Produto Interno Bruto (PIB) de toda a América Latina (Feldmann, 2024).
Leia mais: Novas tecnologias e educação em direitos humanos
O monitoramento que as empresas fazem sobre o conteúdo divulgado nas suas mídias sociais tem sido questionado, visto que tais conteúdos podem ser criminosos e atentar contra as leis dos países em que circulam. Esse é um problema sério, a respeito do qual as autoridades brasileiras têm se posicionado (como o caso da rede social X, do bilionário Elon Musk, e seu desrespeito à legislação brasileira).
Em média, o brasileiro passa 3 horas e meia por dia acessando as redes sociais. A média global é de 2 horas e 24 minutos, com o Brasil ocupando a terceira posição quanto ao tempo de acesso às redes, ficando atrás apenas de Filipinas e Colômbia (Moreno, 2024). Estamos o tempo todo checando as redes sociais, quando estamos trabalhando, nos divertindo, até mesmo conversando presencialmente com outras pessoas, nos transportes públicos, nas salas de aulas, nos consultórios médicos etc.
Nossa atenção foca e desfoca numa velocidade jamais vista. O fato de vivermos em constante deslocamento, mesmo sem sair de casa, como disse Bauman (1991), quando estamos mudando de canal de TV ou navegando na web, fez com que desenvolvêssemos a busca incessante pelo objeto de desejo, daí a importância do consumo em nossas vidas. Mas o autor vai um pouco além: não nos contentamos apenas com o objeto de consumo, mas com a sensação de estar sempre à procura de outro objeto, porque toda vez que realizamos um desejo, logo em seguida vem um novo. Atualmente, o desejo pode ser uma curtida na foto que compartilhamos, uma Direct Message (DM) de um seguidor ou simplesmente a exploração e atualização aparentemente infinita do feed. Isso faz com que as pessoas desejem sempre mais, porque o que se deseja é o desejo, e não um objeto propriamente dito (Bauman, 1991). Então, pensar a relação entre consumo e internet – e, mais especificamente, mídias sociais – é um ponto importante, assim como pensar a relação entre desejo e a sensação de insatisfação permanente, que procura outros desejos, como uma pulsão também.
Por outro lado, desenvolvemos outras habilidades. Aprendemos a olhar e a ler o mundo com a internet a partir de outros matizes, a recortar o que desejamos, formando hipertextos, navegando na infovia e, às vezes, nos perdendo nela também. Por isso, podemos fazer várias coisas e, ao mesmo tempo, checar o celular. Para Santaella (2004), todas as vezes em que a sociedade se transforma através da tecnologia (e vice-versa), descobrimos outras habilidades.
Toda grande transformação sentida com as mudanças tecnológicas na sociedade traz espanto e levanta debates acalorados entre, como diria Eco (2000), os apocalípticos e os integrados. Foi assim com a mudança da cultura oral para a escrita, e desta para a internet (Lévy, 1993), porque as mudanças tecnológicas e sociais são acompanhadas por outras visões de mundo, de vida e de sentido.
Vivemos o excesso de informação, de trabalho e de ter que dar uma opinião sobre qualquer coisa (Bondía, 2002). O cansaço de estar. Diminuímos o tempo da escuta ativa e atenta, do olhar que para e se perde no outro, que, por enquanto, ainda não é um humanoide. Por conta do excesso de informação, vamos deixando de ter experiências, de parar para nos inteirarmos verdadeiramente da nossa presença e da presença do outro, visto que tudo isso requer tempo, que estamos disponibilizando a conexão a partir de dispositivos eletrônicos, com nossas atenções entrecortadas e disputadas por algoritmos, pessoas e empresas, remotamente.
A televisão, no caso do Brasil, conseguia unir pessoas de diferentes partes de um país com dimensões continentais para torcer na Copa do Mundo, para descobrir a identidade do assassino de Odete Roitman na novela Vale Tudo (1988-1989) ou para acompanhar as comédias e tragédias da vida real no Aqui Agora (1991-1997). Isso, de certa forma, e com todas as aspas possíveis, fazia com que os brasileiros compartilhassem experiências, sentimentos e valores. A internet pode fazer isso também, só que em escala planetária, em tempo real e a partir da narrativa daquele indivíduo que deseja se expressar sobre os acontecimentos (ter uma opinião) enquanto constrói seu próprio self (Thompson, 2001).
Conclusão
Para finalizar, trago ao texto um conceito de Joel Rufino, para nos apropriarmos de parte dele para pensar sobre as mídias sociais. O autor fala de um sentido que precisa ser resgatado na educação sobre o termo ‘encruzilhada’, que, em linhas gerais, sofreu uma deturpação violenta com o processo de colonização, deturpação dirigida também ao Exu, senhor das encruzilhadas, nas religiões de matrizes africanas. Conforme Rufino (2020, p. 265),
Sendo Exu o princípio, domínio e potência referente à linguagem como um todo, não restrita às formas discursivas, mas como a própria existência em sua diversidade. Sendo ele o dono do corpo, suporte físico em que é montado por experiências, cognições e memórias e sendo ele o princípio da imprevisibilidade e do inacabamento do mundo, venho dizer que Exu é também a força motriz que concebe a educação e as práticas pedagógicas. Assim, reivindicando ele como forma de educação, ele também estará a questionar sobre como responderemos aos outros nesse labor que deve primar pela ética e coletividade.
É o arquétipo de Exu que aponta a direção para onde podemos ir na Educação, unindo ética e coletividade, ao mesmo tempo que inspira pluralidade. Exu é o senhor da comunicação, que cria e se recria ao mesmo tempo (Rufino, 2020). Nestes tempos de aporia, de um não saber ao certo as consequências de uma sociedade hiperconectada, pensar sobre ética e coletividade pode ser uma luz no fim do túnel.
Foi o que aconteceu com duas viralizações do último mês de novembro nas mídias sociais no Brasil. O Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), criado pelo influenciador digital Ricardo Azevedo com o apoio da deputada federal Erika Hilton, pautou o engajamento em torno do fim da escala 6×1 de trabalho, que deve ser discutida no Congresso Nacional mais adiante. O que viralizou foi justamente o ‘não’ de vários deputados federais à proposta de discussão do fim da escala 6×1 e a indignação dos trabalhadores quanto a isso.
Outro fenômeno de viralização foi a divulgação, a recepção do público internacional, as premiações e indicações do filme Ainda Estou Aqui (2024) – que retrata o drama de uma família atravessada pela violência da ditadura militar –, que ganhou as mídias sociais de todo o mundo com uma história que precisa ser contada e recontada para que possamos aprender (principalmente as gerações mais novas) qual caminho não devemos seguir – o da intolerância, da perda das liberdades e da violência – e para lembrarmos que não podemos negligenciar o passado.
Que viralizem cada vez mais movimentos em prol da dignidade do trabalho e da memória de um país que não esquece sua história e que respeita seus antepassados. Que estejamos de olhos bem abertos e atentos para imprimir nas redes virtuais a possibilidade de um mundo com mais veracidade, transparência e coerência com os direitos humanos. Ao viralizarem nas mídias sociais tanto a campanha pelo fim da escala 6×1 quanto o filme Ainda Estou Aqui, podemos sentir ventos de esperança soprando nesse sentido. Então, fecharei este texto com um lembrete que, normalmente, quando cruza o nosso caminho, nos faz ficar mais atentos à direção: “Desculpe o transtorno! Estamos em construção”.
Referências
AINDA Estou Aqui. Direção: Walter Salles. Produção: Maria Carlota Fernandes Bruno; Rodrigo Teixeira; Walter Salles. Brasil/França: Sony Pictures, 2024.
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
ALVES, Rafael. 10 redes sociais mais usadas entre os brasileiros: confira o ranking atualizado! Mlabs, ago. 2024. Disponível em: https://www.mlabs.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas. Acesso em: 20 nov. 2024.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira da Educação, Rio de Janeiro, n. 19, jan./abr. 2002.
BORELLI, Sílvia Helena Simões. Telenovelas brasileiras – balanços e perspectivas. Revista São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 29-36, 2001.
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. 5ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
FELDMANN, Paulo. O assombroso poder das big techs na economia e na política dos países. Jornal da USP, 24 abr. 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/?p=748347 Acesso em: 20 nov. 2024.
HAMBURGER, Esther. Telenovelas e interpretações do Brasil. Lua Nova – Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 82, p. 61-86, 2011.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 2ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.
MARTÍN-BARBERO, Jesús; REY, Germán. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Senac, 2001.
MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das teorias da comunicação. 3ª ed. São Paulo: Loyola, 2000.
MORENO, Diego. Brasileiro fica em média 3 horas e 31 minutos por dia nas redes sociais. Agência Visia. Disponível em: https://www.agenciavisia.com.br/news/brasileiro-fica-3-horas-e-31-minutos-por-dia-nas-redes-sociais/. Acesso em: 20 nov. 2024.
RUFINO, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas: Exu como educação. Revista Exitus [on-line], v. 9, n. 4, p. 262-289, 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-94602019000400262&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 20 nov. 2024.
SODRÉ, Muniz. A comunicação do grotesco: um ensaio da cultura de massa no Brasil. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 1988.
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do receptor imersivo. São Paulo: Paulus, 2004.
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
VALE Tudo. Direção: Dennis Carvalho; Ricardo Waddington. Produção: Mônica Lemos; Vicente Savelli. Brasil: TV Globo, 1988-1989.
WOLTON, Dominique. Elogio do grande público. São Paulo: Ática, 1996.
Minibiografia do autor
Verônica Eloi é doutora em sociologia pela UFRJ, com destacada atuação como docente no IFRJ, UERJ (FFP) e no Mestrado em Novas Tecnologias Digitais na Educação da Unicarioca. Sua expertise abrange tanto o ensino de sociologia quanto a pesquisa e aplicação de novas tecnologias no campo educacional.
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

O desenvolvimento da consciência ambiental nos Anos Iniciais: estratégias pedagógicas e impacto na formação cidadã

A Transição escolar do 9º Ano para o Ensino Médio: preparando o aluno para um novo ciclo

A construção do conceito de número pela criança

Música no Ensino Fundamental: construindo caminhos de aprendizagem