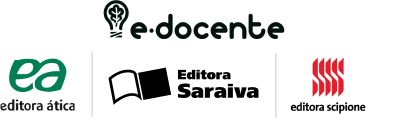Análise Semiótica: O que é? Como se faz?

Se você, caro(a) professor(a), assim como eu, nasceu na década de 80 e pertence, portanto, à chamada Geração Y (somos também conhecidos como millenialls) é bem provável que tenha passado os últimos anos deste início do século XXI abismado – e tentando se adaptar – com as diversas inovações tecnológicas que temos testemunhado na sociedade, especialmente ao fazer uma análise semiótica dessas transformações.
Os nossos estudantes, nascidos em um mundo em que já havia internet, smartphones, streamings e até inteligência artificial, não sabem o que significava esperar que um disco/CD chegasse às lojas para que pudéssemos, assim, comprá-lo e ouvir as novas músicas do nosso artista favorito; desistir de uma programação em uma sexta-feira à noite para não perder a exibição do último capítulo da novela ou, no âmbito dos estudos e do trabalho, escrever documentos à mão ou esperar a chegada, via Correios, de um telegrama de convocação para assumir uma vaga de trabalho.
As novas gerações se relacionam com a tecnologia de forma muito mais orgânica e intuitiva, de modo que podemos afirmar que, no que diz respeito, por exemplo, à maneira como se relacionam com os textos que nos circundam, verificamos o surgimento de um novo ethos, ou seja, de um novo conjunto de comportamentos, valores, ideias e crenças em relação à produção de conteúdos.
Se, na nossa geração, a mídia oficial (jornais, revistas, emissoras de rádio e de televisão) era a referência para o consumo de informação e os únicos canais com chancela para produzir e distribuir conteúdos sobre os mais diversos assuntos, no século XXI, esse cenário é bem diferente. As chamadas mídias convencionais continuam tendo grande importância, mas observamos o surgimento de outras fontes de informação, não institucionalizadas, e produzidas por novos criadores de conteúdo que gozam de prestígio semelhante.
Em meio a essa mudança social significativa, nós, professores, de Linguagens ou de outras áreas do conhecimento, nos vemos diante de um grande desafio: formar estudantes críticos, autônomos, conscientes e capazes de produzir e de atribuir sentidos a mensagens oriundas de diversas fontes e produzidas a partir da combinação de diversos modos de representação da linguagem.
Novos textos, novas práticas de leitura, novo perfil de produtor: o desafio da escola
Na esteira das mudanças ocorridas neste século, um dos marcos mais significativos para a Educação Básica no país foi a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nos anos de 2017 (versão para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental) e 2018 (versão para o Ensino Médio). Criada com o propósito de servir como referencial norteador para a elaboração dos currículos dos municípios, dos Estados e das redes escolares do país, a BNCC surgiu em um contexto político bastante controverso.
Embora tenha sido alvo de muitas críticas, é preciso que reconheçamos a importância de termos um documento que sirva para alinharmos as expectativas de aprendizagens na Educação Básica em todo o país. Além disso, é notável o esforço, percebido na redação do documento, para que a BNCC estimule o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que visem solidificar valores como a democracia, a ética, a sustentabilidade, a inclusão e o protagonismo.
No tocante à área de Linguagens e suas Tecnologias, é de suma importância que os estudantes possam atuar em experiências que envolvam práticas de linguagem associadas a diferentes mídias e situadas, do ponto de vista social, político, cultural, em diversos campos de atuação: da vida pessoal, artístico-literário, das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático e de atuação na vida pública.
A fim de que a escola possa compreender e atender a essas necessidades formativas, a BNCC defende que, na área de Linguagens e suas Tecnologias, as instituições precisam promover “mais do que uma investigação centrada no desvendamento dos sistemas de signos em si, trata-se de assegurar um conjunto de iniciativas para qualificar as intervenções por meio das práticas de linguagem” (BRASIL, 2018.p.477-478).
A expressão práticas de linguagem denomina um conjunto de saberes e procedimentos que viabilizam o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao componente de Língua Portuguesa, representadas pelos seguintes eixos: leitura/escuta, produção de textos (orais, escritos, multimodais) e análise linguística/semiótica. Essa conexão favorece o desenvolvimento de competências, as quais perpassam as diferentes áreas do conhecimento.
Entre as práticas relacionadas na Base, a que pode ser considerada uma novidade para os professores, principalmente no âmbito da Educação Básica, é a chamada análise semiótica. A sua inserção, em conjunto com a análise linguística, demonstra que se trata de abordagens que se alinham, que oferecem suporte e subsídios uma à outra. Mas, dada a falta de familiaridade com o conceito, é possível que muitos professores se perguntem: o que é análise semiótica?
A BNCC, ao defender que a área de linguagens está centrada no conhecimento, na compreensão, na análise e na utilização de diferentes linguagens, argumenta que é preciso que o estudante amplie seu repertório, de modo que possa desenvolver seu senso estético, sua capacidade de comunicação e de percepção das relações de poder imbricadas na composição de diferentes textos, construídos a partir do uso de múltiplas semioses. Desta forma, o documento esclarece:
“Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua organização própria, é importante que os jovens, ao explorarem as possibilidades expressivas das diversas linguagens, possam realizar reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes semioses – visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos, sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras e escrita) e corporais (gestuais, cênicas, dança). Afinal, muito por efeito das novas tecnologias da informação e da comunicação (TIDC), os textos e discursos atuais organizam-se de maneira híbrida e multissemiótica, incorporando diferentes sistemas de signos em sua constituição”. (BRASIL, 2018. p.478)
Analisando o fragmento transcrito, chegamos à conclusão de que, ainda que a BNCC não apresente, de forma explícita, o conceito de análise semiótica, é possível depreender, a partir dessas considerações, que se trata de uma abordagem através da qual devemos considerar, do ponto de vista analítico, a convergências dos vários modos semióticos, como cor, tipografia, layout, imagens, entonação, gestos, entre outros, como componentes tão importantes para a construção dos sentidos no texto quanto os linguísticos, verbais.
Como fazer análise semiótica?
É possível que você, professor(a), esteja pensando nesse momento: ok, já entendi o conceito de análise semiótica, mas…como fazer? E mais: como ensinar? Essa insegurança é bastante compreensível. Os estudos sobre semiótica, multimodalidade, apesar de bastante vastos e diversificados, ainda não são tão populares no Brasil. As teorias relacionadas ao tema começaram a chegar às universidades brasileiras na primeira década dos anos 2000, através de obras escritas em língua inglesa, e, ainda assim, as discussões ficaram muito restritas à Pós-Graduação.
Além disso, diferentemente do que ocorre com a análise linguística, cujo ponto de partida são os estudos sobre os contextos de uso da norma culta padrão, sustentados pela gramática normativa, que tem séculos de tradição, ainda faltam manuais acessíveis que sistematizem conceitos, categorias e classificações voltados à composição multissemiótica dos textos, característica que chamamos de multimodalidade.
Por fim, é preciso ressaltar que os estudos em multimodalidade são, por natureza, interdisciplinares. Dialogam com áreas que geralmente não fazem parte dos currículos dos cursos de Letras, como Design, Sociologia, Antropologia, Comunicação e Psicologia. Mas não se assuste diante dessas ponderações, caro(a) colega(a)! Sabemos que a presença da diversidade de linguagens na escola não é novidade. Naturalmente, trabalhamos com diversos gêneros cuja composição é rica em termos de combinação de recursos semióticos, a exemplo da charge, da reportagem, do anúncio publicitário, do infográfico, dos memes, dos curtas-metragens. Proponho, então, que passemos à discussão da análise semiótica do ponto de vista prático. Vamos?
Uma fotografia: várias composições, diferentes leituras
Uma das obras mais importantes para a difusão do conceito de multimodalidade e a ampliação de estudos em torno do tema chama-se Reading Images. The Grammar of Visual Design, de Gunther Kress e Theo van Leeuwen, publicada em Londres, em 1996. Na obra, os autores desenvolvem um estudo que se propõe a situar o lugar da comunicação visual na sociedade. Para isso, ressaltam que esta tem relação direta com o contexto e com os usos e valores que lhe são específicos. Sendo assim, para que analisemos os textos selecionados para a discussão que lhes proponho, preciso, antes, contextualizar as situações em que foram produzidos e compartilhados.
Leia mais: A evolução da língua portuguesa e a resistência purista de parte da sociedade
No mês de novembro de 2024, os olhares do mundo inteiro estiveram, por alguns dias, voltados para o Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro. A cidade sediou, nos dias 18 e 19, o encontro da cúpula do G20. O “Grupo dos 20”, como a abreviação sugere, é formado por 19 nações, mais a União Africana e a União Europeia, que têm como missão discutir iniciativas e ações para promover melhorias de ordem econômica, política e social, as quais são formalizadas em acordos assinados pelos líderes da cúpula no último dia do evento.
Na condição de país-líder da cúpula este ano, coube ao Brasil definir os temas a serem tratados como prioridade e ao presidente a tarefa de ser anfitrião do evento, que reuniu alguns dos mais importantes chefes de Estado globais. Naturalmente, há, entre eles, alguns mais e outros menos alinhados à política externa do governo brasileiro. Cientes da relação estabelecida entre os chefes de Estado participantes, representantes da mídia e cidadãos comuns nutriam expectativas em relação a esse encontro.
A participação do presidente Javier Milei, por exemplo, foi aguardada e acompanhada com curiosidade, visto que o argentino, que costuma ter posturas bastante polêmicas, é alinhado à extrema direita, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e declaradamente contrário a algumas das propostas do presidente Lula, como a que propõe a taxação dos super-ricos como estratégia para minimizar a desigualdade social.
Tendo em vista esse cenário político brevemente descrito, os registros fotográficos do evento foram alvo de especulações e de análises de diversas ordens. Conforme o protocolo, o presidente anfitrião recebeu, cumprimentou e fez fotografias ao lado de todos os chefes de Estado do G20. Entre as imagens mais divulgadas, não apenas pelos veículos de mídia oficial como pelos usuários de diversos perfis de redes sociais, está o registro entre os presidentes da Argentina e do Brasil:

Posicionados no centro da foto, Lula e Milei estão acompanhados da Primeira-dama, Janja, e de Karina Milei, irmã do presidente argentino. As expressões corporal e facial dos líderes políticos revelam um certo incômodo e constrangimento. Eles não apertam as mãos, em sinal de cordialidade, nem sorriem para a foto.
Analistas apontam que Milei segurava uma pasta como uma estratégia para evitar contato físico e, consequentemente, o cumprimento entre os presidentes, esperado em situações formais como a retratada na fotografia.
Leia mais: Improvisação para educadores
A animosidade observada entre os principais participantes do registro não passou despercebida e, mais do que a ausência de um gesto, de um cumprimento, a postura dos governantes foi lida como uma declaração de desacordo entre os países que representam.
A fotografia repercutiu de tal modo que os jornais O Globo e Folha de São Paulo, dois dos mais importantes veículos de mídia do país, apresentaram, no dia 19/11/24, as seguintes primeiras capas:


(Fontes: https://infoglobo.pressreader.com/o-globo e https://acervo.folha.uol.com.br/digital/compartilhar.do?numero=12696)
Em ambas, a fotografia que retrata o encontro entre Lula e Milei foi utilizada em composições que nos revelam que a imagem em questão não deve ser vista como mera representação de comunicação, mas como um elemento de valor social e político.
Na capa do O Globo, à esquerda, vemos uma fotografia oficial dos representantes do G20 e, logo abaixo, as fotos do presidente Lula com alguns chefes de Estado, sendo a primeira com o presidente Javier Milei. A composição é acompanhada do seguinte título: “Climão” no encontro com Milei. Apesar de Lula não ter sido mencionado no enunciado, o qual não apresenta um sujeito em sua constituição, o uso da expressão coloquial “climão”, entre aspas, e da preposição “com”, que indica companhia, seguida do nome de Milei, faz com que a presença do presidente brasileiro seja percebida, fato explicitado pelo uso da fotografia entre eles.
Já a capa da Folha de São Paulo traz como título o enunciado “Texto final do G20 defende taxação de super-ricos e cita crise em Gaza” no subtítulo, consta a seguinte informação: “Documento da cúpula do Rio é aprovado; Argentina foi principal obstáculo nas negociações”. Abaixo do texto verbal, foi apresentado um painel composto pelas fotografias do Presidente Lula com os principais líderes das demais nações. Posicionada, estrategicamente, ao centro, a fotografia entre Lula e Milei. Em todas as demais, é possível perceber que os semblantes são sorridentes, amistosos; em algumas, é possível ver cumprimentos, apertos de mão.
Claramente, em ambas as capas, as composições foram estrategicamente planejadas com o intuito de evidenciar o mal-estar entre Lula e Milei. Conforme apontam Kress e van Leeuwen, os modos semióticos são moldados tanto por características intrínsecas quanto extrínsecas. No caso que estamos discutindo, houve intencionalidade na captação da imagem, ou seja, no registro fotográfico, no uso da fotografia original em composições que dela derivam e na forma como a “rusga” diplomática foi evidenciada e divulgada em outros canais, a exemplo do feed e dos stories, no Instagram, dos jornais mencionados.
Considerando que, na contemporaneidade, os discursos se horizontalizaram, no que diz respeito à circulação destes, as imagens alcançaram outras instâncias e promoveram outras construções textuais, produzidas e compartilhadas por simpatizantes tanto de Lula quanto de Milei, a exemplo dos memes abaixo:


As construções acima nos ensinam que a sintaxe visual, ou seja, o uso da imagem original em um contexto diverso, associada a elementos como enquadramento, saturação de cor e de luz, edição (acréscimo de texto sobreposto às imagens ou junção/sobreposição de fotografias feitas em momentos e contextos distintos) não é mera reprodução, mas fruto de escolhas ideológicas. Senso assim, os sentidos são construídos e utilizados em contextos sociais específicos.
Conclusão
A produção de um texto a partir da mobilização e da combinação de vários modos semióticos está baseada em escolhas intencionais por parte dos produtores, considerando-se os elementos que compõem o contexto de produção. Essas escolhas, em geral, estão condicionadas aos valores eleitos pelos grupos sociais aos quais os textos se destinam. Senso assim, ao evidenciarmos, em nossas aulas e atividades, as estratégias selecionadas para a composição dos textos, considerando não apenas os aspectos linguísticos como as demais semioses em sua composição, e mediando a análise dos estudantes em relação a esses textos, estaremos contribuindo não apenas para que compreendam o funcionamento de diferentes linguagens, mas para que percebam as potencialidades desses recursos para compor textos através dos quais atuarão em diversos contextos de interação social.
REFERÊNCIAS:
BRASIL, SEB/MEC. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
KRESS, G. & VAN LEEUWEN, T. Reading images: The Grammar of Visual Design. Londres: Routledge, 1996, 288p.
Minibio do autor
Paloma Borba é doutora em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É professora adjunta do curso de Letras / Português da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenadora do curso de Especialização em Estudos da Linguagem e Formação Docente (LINFOR/UFRPE). Atua na área de Linguística, com ênfase nos estudos sobre Gêneros Textuais, Multimodalidade, Letramentos e na Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa.
Crie sua conta e desbloqueie materiais exclusivos
Veja mais

O desenvolvimento da consciência ambiental nos Anos Iniciais: estratégias pedagógicas e impacto na formação cidadã

A Transição escolar do 9º Ano para o Ensino Médio: preparando o aluno para um novo ciclo

A construção do conceito de número pela criança

Música no Ensino Fundamental: construindo caminhos de aprendizagem